Haverá aí alguém que não tenha já lido «O Mandarim»? E alguém se lembrará ainda do que leu?
Lembro eu, então, resumindo muito resumidamente: conta-nos um certo Teodoro, amanuense do ministério do Reino, o caso que com ele se deu de às tantas, inopinadamente, ter diante de si a possibilidade de herdar os infindáveis cabedais de um remoto mandarim chinês à sua morte. Morte essa que estava nas mãos do Teodoro determinar: bastaria para isso abanar uma campainha que logo ali apareceu à sua disposição. E ao soar desse ti-li-tim o remoto mandarim soltaria um suspiro final e o modesto amanuense, então a viver num quarto de hóspedes, com os miseráveis vinte mil reis mensais do seu estipêndio, veria a seus pés mais ouro do que o que poderia sonhar a ambição de um avaro. Ousaria ele tocar a campainha? Ousaria matar, lá muito longe, o mandarim de quem nada sabia, nem poderia saber?
Pois ousou, sim senhor. E o livro é o relato do que então se seguiu.
Conto isto aqui, assim resumidamente, mas não é do livro que queria falar. Aliás, duvido que mereça a cera que com ele se pudesse gastar. Numa prosa com muito de pomposo e de indigesto, o bacharel narrador, que mais parece ter-se escapado do expediente do escritório de algum Alves & Cª, gasta metade das pouco mais de cem páginas da novela a rebolar-se na vida de depravação e de luxo que a herança lhe valeu, tal como a teria fantasiado a imaginação medíocre e frustrada de um manga de alpaca que tivesse acabado de devorar as descrições miríficas da «Salambô» ou das «Tentações de Santo Antão» que Lisboa andaria nessa altura a descobrir. E a outra metade passa-as a perseguir uma redenção impossível numa busca insana do finado mandarim, numa China improvável, feita de clichés e de apropriações e contrafações da literatura francesa da época. Tudo isto servido num pastiche, com seus peculiares modismos e bordões, do estilo inconfundível do escritor Eça de Queirós, seu contemporâneo. Não seria certamente esta noveleta inconsequente que haveria de lhe valer o lugar no Panteão Nacional, que aliás nem a família saberá ao certo se ele o haveria de desejar.
O que me leva a trazer para aqui o Mandarim é antes, e mais precisamente, o problema digamos que filosófico que ele nos coloca com aquela interpelação estranha, rebrilhando em negrito: «Tocarás tu a campainha? De um lado um mandarim decrépito, morrendo sem dor, longe, a um ti-li-tim da campainha; do outro toda uma montanha de ouro cintilando a teus pés!»
É importante aquele pormenor da morte que podemos imaginar sem dor, longe da vista, anónima. Nada das mortes sanguinolentas à espadeirada ou de escopeta à queima-roupa. Nada do horror e da culpa associados ao crime violento ou à morte infligida por nossa mão. Tudo se passa de modo asseado, sem confrontos, sem remordimentos, sem transtornos de stress pós-traumático.
Tão importante isso é que os profissionais das profissões da morte se dedicam há séculos a aperfeiçoar o método: já hoje é possível matar, e matar em massa até, sem ter de confrontar o assassino com a sua vítima, com a realidade real da morte matada. Este aqui, premindo um botão, que descarrega a bomba que matará centenas, milhares de desprevenidos no lugar errado no momento errado. Aquele ali, despejando um tapete espesso de napalm que aumenta a persistência incendiária de algum composto petrolífero e deixa aldeias inteiras feitas em fumo num abrir e fechar de olhos. Ainda outro acolá simplesmente clicando a opção «ativar» no programa informático que fará explodir um, centenas, milhares de telemóveis, ou pagers, ou outro meio de comunicação aparentemente inócuo.
Um progresso na arte de matar sem culpa, ao que se vê.
A utilização da aviação na guerra foi um primeiro passo. Decisivo. Uma alternativa económica sem necessidade de manter vastas guarnições permanentemente no ativo. Logo após a sua criação, a Royal Air Force foi utilizada pela Grã-Bretanha nas chamadas «operações de controlo aéreo» das suas possessões no Médio Oriente, que lhe tinham cabido como despojos do desmembrado Império otomano a seguir à Primeira Grande Guerra. A tática elaborada por um comandante de esquadrão recomendava bombardeamentos contínuos, dia e noite, de casas, searas e gado, sobre as aldeias iraquianas. Eficaz. Dizia um jovem chefe de esquadrão: «Agora os árabes e os curdos sabem que em quarenta e cinco minutos uma aldeia completa pode ser totalmente aniquilada e um terço dos seus habitantes mortos por quatro ou cinco máquinas que não constituem nem um alvo para eles, nem oportunidade de glória como guerreiros, nem reais possibilidades de fuga». Note-se: são as máquinas que matam, não homens já.
Era só o início do sistema de morte em massa e anónima.
Veio o Vietname, vieram as guerras coloniais da Europa, e aí o remédio indicado para as guerrilhas do inimigo eram os bombardeamentos indiscriminados, o napalm, as bombas de deflagração retardada. Não vamos falar sequer de Hiroxima e Nagasaki – o culminar do método da morte sem culpa, infligida de longe, anonimamente, a milhares e milhares de pessoas sem rosto, sem nome, sem presença, que nunca virão assediar o sono dos assassinos.
Mesmo assim, haverá quem lamente o desperdício – e falará de métodos ainda mais sofisticados – e menos impopulares entre os eleitores! – que tornarão possível matar vítimas selecionadas, já não à toa, usando métodos igualmente «anónimos».
O exército israelita (a sua Unidade 8200, shmone matayim em hebraico, comparável à National Security Agency americana) criou uma base de dados, alimentada pelo programa «Lavanda» de inteligência artificial, que em pouco tempo, reunindo dados de variadas proveniências, conseguiu identificar trinta e sete mil alvos potenciais, com supostas ligações ao Hamas, para servirem de apoio à campanha de bombardeamentos em Gaza. Diz um dos agentes dos serviços de informações do exército, num relato de que dá notícia o jornal inglês «The Guardian» que eles, os utilizadores do Lavanda, tinham mais fé num «mecanismo estatístistico» do que num soldado, que poderia ser influenciado pela sede de vingança. «Todos nós ali, eu incluído – diz um dos autores do testemunho – tínhamos perdido alguém no 7 de outubro. Mas a máquina fazia tudo friamente. E isso tornava as coisas mais fáceis. Eu não perdia mais do que 20 segundos com cada um dos alvos nesta fase, e eram dezenas deles por dia. A mais valia que eu acrescentava como humano era zero, não passava de uma espécie de carimbo de aprovação. Poupava-se uma data de tempo.»
Mesmo assim, havia o risco, praticamente inevitável, de apanhar alguns civis inocentes, o que poderia suscitar algumas objeções morais ou legais a alguns militares. O Exército israelita sabe isso («é o exército mais ético do mundo», não se cansa de o lembrar) e, como esclarecem as fontes do artigo do Guardian, o Exército antes de o bombardeamento ser autorizado, no caso de certos alvos, aplicava algumas regras que apenas pré-autorizavam um certo número de mortes de civis. Diziam as tais fontes citadas pelo Guardian que durante as primeiras semanas da guerra era permitido matar 15 ou 20 civis nos ataques a militantes dos níveis mais baixos, que poderiam ser realizados com munições não-dirigidas, conhecidas como «bombas estúpidas» [dumb bombs], capazes de destruir casas inteiras com os ocupantes que lá se encontrassem no momento. «Não vale a pena estar a gastar bombas caríssimas com pessoas sem importância. É muito caro para o país e há muita falta delas.» No caso de altos dirigentes do Hamas, poderia atingir-se um número superior a cem mortes autorizadas [de civis]. «Tínhamos uma tabela para saber quantos civis poderiam ser mortos no caso de um comandante de brigada, de um comandante de batalhão e assim por diante», diz uma das fontes citadas. Outras fontes dizem que o número foi variando ao longo do tempo e houve casos em que não eram autorizadas mais do que 5 mortes de civis.
O Exército de Israel, (o mais ético do mundo, como se auto-define) ao tomar conhecimento da publicação destes testemunhos emitiu uma declaração afirmando que as suas operações eram levadas a cabo de acordo com as regras internacionais da proporcionalidade. E esclarecia ainda que as chamadas «dumb bombs» constituem armas normais, que são usadas pelos pilotos israelitas de uma maneira que assegura «um elevado grau de precisão». E além do mais, garante um dos autores do relatório citado, «os sistemas de informação não passam de meros instrumentos usados pelos analistas do processo de identificação de alvos».
Aqui para nós, não estou muito convencido de que o esclarecimento lave o Lavanda de algumas objeções ou acalme os escrúpulos de alguns com mais dúvidas quanto aos padrões do exército mais ético do mundo. Ou que apague todas as questões suscitadas pela publicação do testemunho destes seis membros do serviço de informações, todos eles envolvidos nos sistemas de Inteligência Artificial usados para identificar membros do Hamas e da Jihad Islâmica, a que o Guardian teve acesso e que foram originalmente comunicados ao jornalista Yuval Abraham que os utilizou na publicação israelo-palestiniana +972 e em Local Call, um site independente de notícias em língua hebraica.
Tudo isto nos deixa a pensar que não andaremos muito longe da guerra limpa, assética, eficaz como nos anúncios dos inseticidas mata-baratas e percevejos. E mais perto andaremos ainda se a isto juntarmos a informação da Amnistia Internacional sobre o sistema de recolha de dados biométricos de palestinianos, posto em prática pelo Exército israelita («O Exército mais ético do mundo», não nos esqueçamos), recorrendo a programas de reconhecimento facial (com nomes tão evocativos como Lobo Vermelho, Lobo Azul e Alcateia), efetuado sem consentimento, nas passagens dos pontos de controlo na Cisjordânia ocupada, acumulando deste modo uma vastíssima base de dados de palestinianos que, se em mãos menos éticas, poderia ser usada para restringir a liberdade de movimentos ou para exercer uma vigilância coletiva sobre as populações das áreas ocupadas.
Há quem se preocupe com tudo isto. E há quem ache que vai nisto uma enorme economia de esforços e de meios, uma guerra ao mesmo tempo eficaz e económica, o sonho dos fazedores de guerras que se deparam com o número sempre crescente de populações renitentes em se oferecerem para o supremo sacrifício pela Pátria. Quem há de resistir à tentação? Quem não faria soar o ti-li-tim fatal que lhes assegurasse a morte remota de todos, mandarins ou não, que se lhes opusessem?
Estou como diz o autor d’«O Mandarim», que conclui assim o seu relato: «Ao expirar, consola-me prodigiosamente esta ideia: que do norte ao sul e do oeste a leste, desde a Grande Muralha da Tartária até às ondas do mar Amarelo, em todo o vasto Império da China, nenhum mandarim ficaria vivo, se tu, tão facilmente como eu, o pudesses suprimir e herdar-lhe os milhões, ó leitor, criatura improvisada por Deus, obra de má argila, meu semelhante e meu irmão!»
E na verdade ninguém nos diz que não seja (ainda hoje) a cada um de nós que ele se dirige.

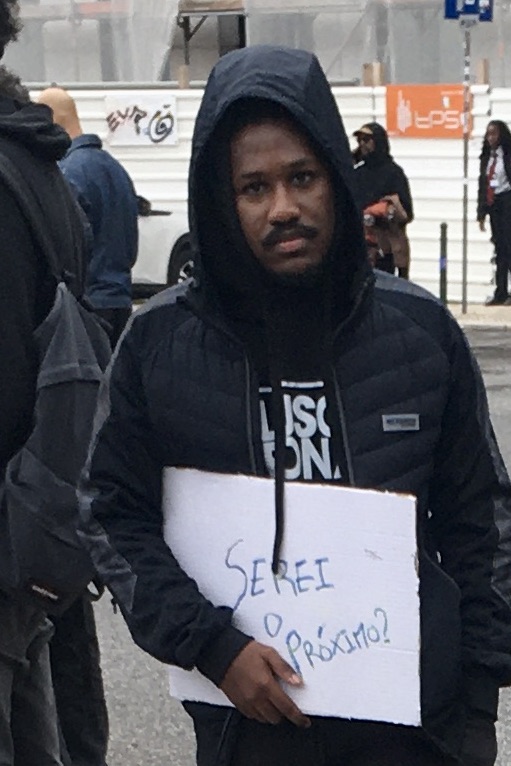









Deverá estar ligado para publicar um comentário.