É só um supor, mas vamos lá supor que levamos a sério a indignação que por aí vai contra as medidas tomadas pelo Império americano para meter na ordem algumas das satrapias mais recalcitrantes aos seus diktats. A Europa não foi das mais poupadas. E a frustração e a revolta contra o Império explodiu temperamental e enfurecida a prometer por ali le jour de gloire ou, por aqui, marchar contra os canhões que for preciso. E valentes retaliações. Ai ele é isso? Ai querem ir-nos ao bolso? Pois bem, não contem mais connosco, com nenhum de nós, para continuar a consumir os vossos produtos. Aqui em casa acabou o made in América!
E foi um rebuliço por esses supermercados fora. Pode-se imaginar (e imaginar não custa) toda a nossa denodada gente a espiolhar etiquetas para rejeitar tudo o que fosse da origem agora renegada, todos a rebuscar prateleiras à procura de alternativas nossas, muito nossas. Ou pelo menos europeias que também são um bocado nossas.
Um patriotismo que fica bem, mas que fica caro. E que dá muito muito trabalho!
Veja-se a história deste valoroso bretão que conta num jornal britânico (The Guardian) a odisseia em que se meteu quando decidiu eliminar do seu quotidiano tudo o que cheirava a Magalândia.
No que toca aos comes e bebes ainda a coisa foi andando: não faltam alternativas para os cereais do pequeno-almoço, para o whisky, para os MacDonalds e Kings Burgers. Até para a Coca-Cola. Também para os consumos que nos consomem na área da higiene, da limpeza, das roupas, etc. Já um pouco mais complicado quando se trata de substituir o Bob Dylan, ou o Springsteen, ou a Aretha Franklin, ou o Miles Davis e mil e um como eles; ou os filmes e as séries que acompanharam a nossa vida ou revemos agora na Netflix.
O problema começou quando chegou à tecnologia em que assenta todo o dia-a-dia dos nossos dias. Torceu-se todo, o desgraçado, para arranjar substitutos para o Gmail, para o Google Maps, para o FaceBook, para o YouTube e todo o resto que invadira e tomara conta da sua vida familiar e social.
As opções ditadas pela consciência escondem muitas vezes ao nosso olhar superficial o que implicam de penoso, de dispendioso, de complicado. Metade (ou mais!) da nossa vida assenta em hábitos e escolhas de muitos anos. Mudar a nossa bengala cibernética, por exemplo, significa ter de aprender o funcionamento de novos sistemas operativos, novas palavras-passe, novos termos, novas regras… Um inferno. Como depressa percebeu o bom do Jeremy Ettinghausen, que assim se chama o homem de quem estou a falar, e que vive agora (se é que sobreviveu à experiência) a esbravejar no meio do novelo ensarilhado das alternativas europeias ainda verdes. Quando as há. E outras, se não estão verdes, é porque, como as bananas, amadurecem no consumidor. Escapar ao made in America é entrar num mundo desconhecido feito de nomes que ainda nos soam, a nós, americanos involuntários, ou à força, um tanto ou quanto bárbaros, como : Murena fairphone 5, Suunto, Proton mail, Whereby, Openstreetmaps, LibreOffice… Tudo europeu, sim, mas sabe-se lá quantas não o serão à custa de componentes feitos na China, na Ásia mais ou menos americana e noutros sítios, que se calhar nos deveriam merecer os mesmos pruridos de consciência.
Diz o Jeremy que é uma questão de princípio e que… It’s not a principle if it doesn’t cost you something. E foi esse o preço que se dispôs a pagar para mudar tudo. Tudo? Não. Há coisas que nem assim ele conseguiu mudar, e que tem a ver com o coração da questão: não encontrou nenhum banco que funcione com um sistema de pagamentos que não seja o Visa ou o Mastercard. Como não se inclina para a solução de guardar o dinheiro debaixo do colchão, foi esse o primeiro grande obstáculo em que embateu. Outro foi o sistema de investimentos financeiros, quando pensou em pôr a pensão ao abrigo do omnipresente sistema americano. Fala também timidamente no club de futebol de que é adepto (Arsenal), e que por razões que não quer discutir lhe custaria muito deixar. Mas pelos vistos também aí terá que cortar. Foi comprado pelos americanos.
Não é fácil des-americanizar o nosso quotidiano quando nele habita o que temos de mais vital, as nossas paixões (e a nossa bolsa!) centro nevrálgico das pulsões e do ambiente amniotico em que vivemos mergulhados. É que a América não ficou quietinha no sítio onde Colombo a encontrou e a deixou. Hoje, a América está em todo o lado. E aqui também. Para mal dos nossos pecados, que agora nos torna tão espinhosa a nobre tarefa patriótica de a despejar daqui de casa
É que não é fácil.
E não é fácil por uma razão muito simples (também por muitas outras mais complicadas, mas que agora não vêm ao caso). É que quando falamos das coisas que consumimos, que importamos, que compramos não estamos apenas a falar do seu valor de uso. Esse é igual para todos e em toda a parte. Tanto nos diz as horas uma respeitável cebola da Reguladora (desde 1872) de Famalicão como o artilhadíssimo Rolex de ouro e diamantes usados pelas socialitas que vêm nas revistas. Mas isso só no que toca a saber que horas são, que é esse o valor de uso de um relógio. O resto – e é aí que bate o ponto – tem muito mais que se lhe diga e agora já não estou a falar apenas de relógios. Além do seu democrático valor de uso, as coisas (chamemos-lhes assim para simplificar) têm também um valor de troca (que não é já o mesmo para todos nem para tudo). E principalmente têm um valor por assim dizer simbólico, que as pode tornar em sinais de pertença, valor esse que varia de pessoa para pessoa, que as consome para se afirmar ou para ser vista como pertencentes a uma tribo, a um clube, a uma classe, a uma casta, a uma tendência da moda (mesmo que passageira). Quantos dos produtos que compramos e exibimos não terão para nós essa única utilidade? E quantos desses produtos (e marcas!!) não serão precisamente americanos e que só por isso os usamos? Poucos serão os que se resignam a vestir umas calças de ganga da Maconde (onde isso lá vai) se puder comprar umas Levi’s 501, é ou não é?
A América não só está em todo o lado como invadiu a nossa vida, as nossas escolhas, e até o mundo mais secreto dos nossos desejos e das nossas fantasias, essa é que é essa.
Mas então não há nada a fazer a não ser fazer o quer o Império nos diz para fazer, sem tornar a nossa vida impossível? É uma pergunta a que só cada qual pode responder. Mas, vamos lá a ver, isto é como nos testes de exame: não é preciso responder a todas para ter positiva. Podemos ir por partes. Pode ser que cada um de nós não esteja à altura de derrubar o Império, mas todos podemos ir metendo uma pedrinha na engrenagem, e atrasar o passo à invasão inexorável, que foi o que fez o pobre do Viriato diante das poderosas legiões. Espero que último este assomo patriótico possa levar toda a nossa gente a cancelar a compra do Tesla que tinham encomendado, ou a rescindir as férias em Miami, ou o inocente hábito de investir na Google e quejandos. Daí para baixo não é tão fácil, e verdade, mas talvez valha a pena tentar. E dá um certo gozo passar uma rasteira à Magalândia.
Que o digam as pessoas cá de casa já convertidas à Pasta Medicinal Couto (agora com flúor, veja-se o luxo) e outras re-descobertas da nossa alma lusa e europeia. É só ir à internet: está cheia de listas dos mais variados produtos para alimentar a vaga de des-americanização que aí anda. Ou não anda?
Há coisas que me deixam na dúvida: aqui no meu bairro da Graça, o comércio local, por exemplo, continua a ignorar as veleidades contestatárias e continua florescente e cada vez mais próximo do modelo importado. Por aqui, não vamos lá.

PS: escreveu-me alguém a perguntar como poderia juntar mais um ao grupo de leitores, ou seja: como subscrever o blog. Pois é ir ao blog no endereço que copio a seguir e depois clicar em “subscrever”.
(link): https://zelima388727646.wordpress.com/
Ou talvez preencher o espaço próprio no fim de cada texto. Não esquecer de indicar o email.
E obrigado. Quantos mais melhor!
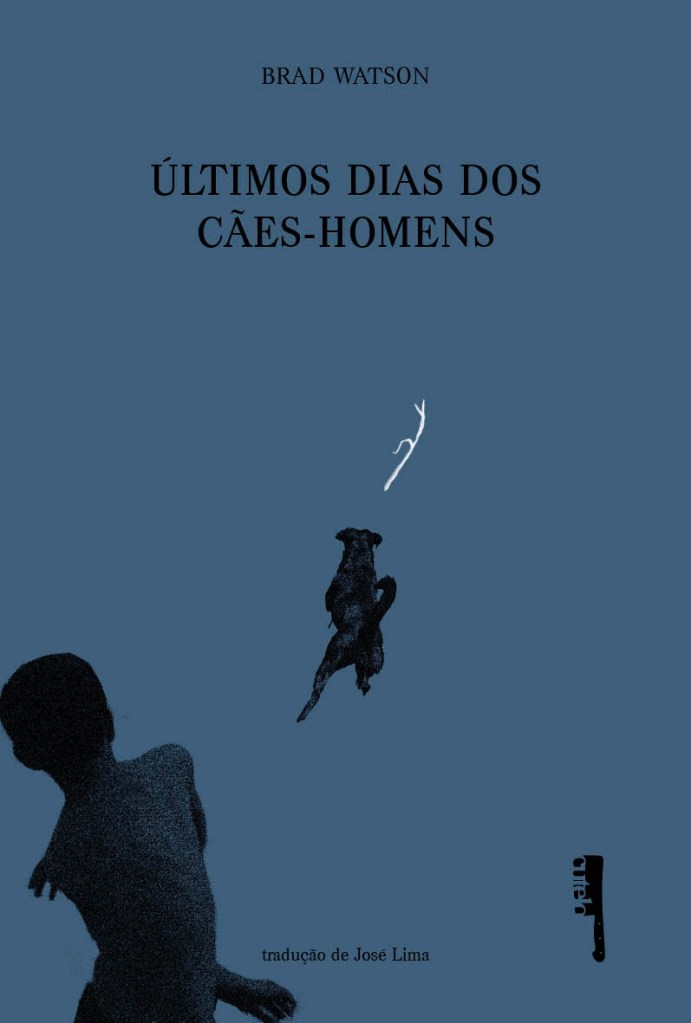

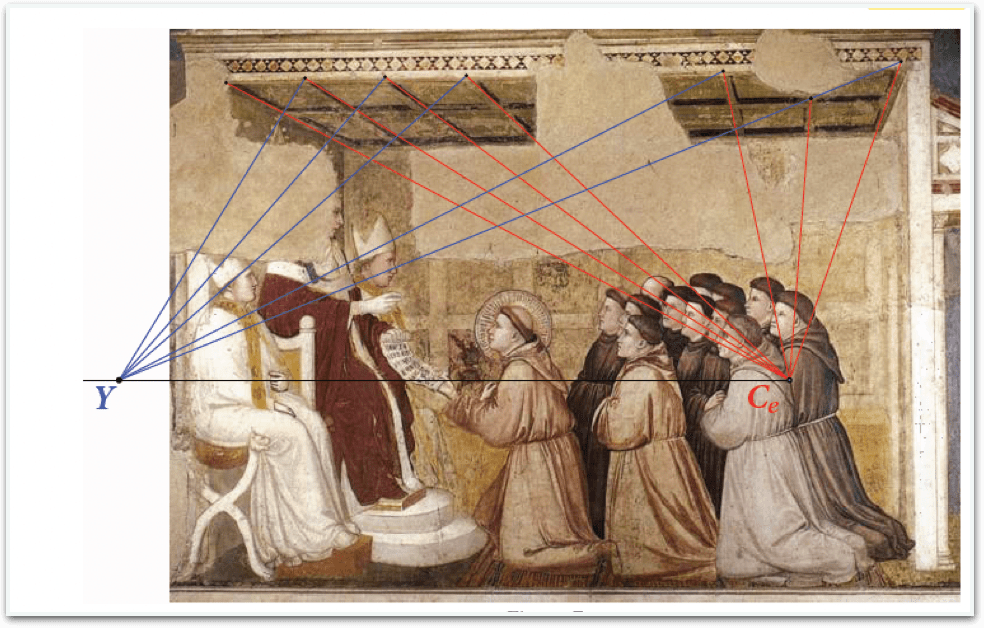
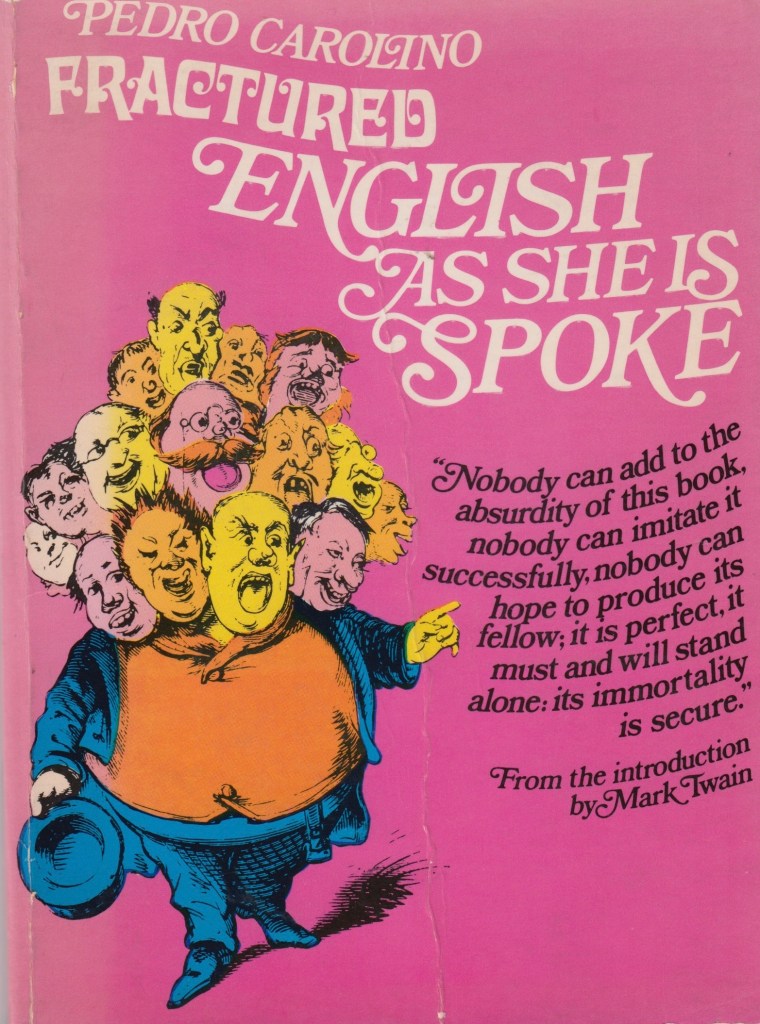




Deverá estar ligado para publicar um comentário.